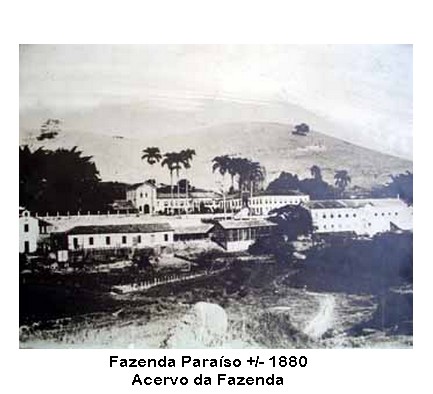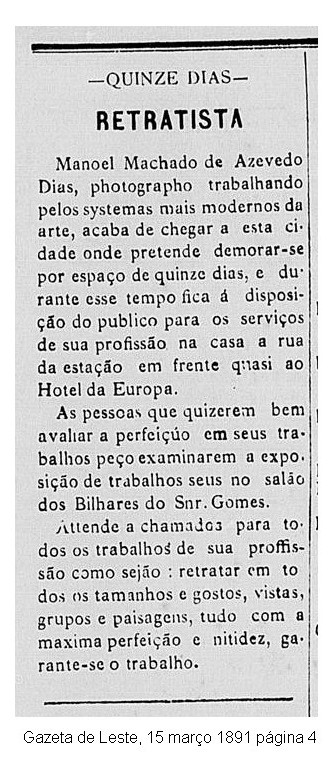O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial (1) a partir de agosto de 1942, quando efetivamente reconheceu o estado de beligerância, até 08 de maio de 1945, considerado o Dia da Vitória. Contam, os que registraram os acontecimentos da época, que as tropas foram reunidas no Rio de Janeiro de onde embarcaram com destino ao Teatro de Operações na Itália ou, aos destinos indicados para proteção da costa brasileira.
Vale explicar que, para formar a Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária (2), juntaram-se as unidades já existentes no Exército Brasileiro na forma seguinte:
– Infantaria: 1º R.I (Regimento Sampaio) do Rio de Janeiro (RJ); 6º R.I. (Regimento Ipiranga) de Caçapava (SP); 11º R.I. (Regimento Tiradentes) de São João Del Rei (MG).
– Artilharia: 1º Grupo do Regimento de Obuzes Auto-Rebocado, criado no Rio de Janeiro (RJ); 1º Grupo do 2º Regimento de Obuzes Auto-Rebocado, constituído com elementos do 6º Grupo de Artilharia de Dorso, de Quitauna (SP); 2º Grupo de Artilharia de Dorso, do Rio de Janeiro (RJ); Grupo Escola do Rio de Janeiro (RJ) que, motorizado, se transformou em Grupo de 155 Auto-Rebocado. – Engenharia: 9º Batalhão de Engenharia de Aquidauana (MT).
– Cavalaria: Esquadrão de Reconhecimento do Rio de Janeiro (RJ), organizado pelo 2º Regimento Moto-Mecanizado.
– Saúde: 1º Batalhão de Saúde, criado em Valença (RJ).
– Tropa Especial: Companhia do Quartel General, Companhia de Transmissões, Companhia de Manutenção e Companhia de Intendência, todas do Rio de Janeiro (RJ).
– Órgãos não Divisionários: Um Depósito de Pessoal.
Com estas unidades reunidas, formou-se o contingente enviado para a Itália no total de mais de 25 mil militares e civis e um número ainda desconhecido de brasileiros que foi empregado na proteção da costa brasileira, em razão da sua extensão e da necessidade de manter minimamente operando o comércio com o resto do mundo. Nesta operação de guerra, seja na Itália ou no patrulhamento do Atlântico, mais de três dezenas de leopoldinenses estiveram diretamente envolvidos. Estes combatentes são conhecidos como Expedicionários por terem feito parte da Divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira.
Importante esclarecer que se entende por Expedicionário todo militar que atuou nos campos da Itália ou na guarnição da nossa costa. Visão que se apoia na literatura pesquisada e em histórias contadas como as do livro das jornalistas Belisa Monteiro, Dérika Kyara e Letícia Santana (3), esclarecendo a convocação de militares e civis para defesa do litoral brasileiro, mostrando que suas tensões foram semelhantes às vividas pelos que cruzaram o Atlântico. Além do que, muitos dos que ficaram no Atlântico pertenciam a unidades existentes no Exército Brasileiro antes da Guerra, as quais foram reunidas para formar a Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária (4). Isto é, faziam parte do mesmo Exército.
Segundo Palhares (2), na costa brasileira foram bombardeados 32 navios nacionais entre janeiro de 1942 e julho de 1944, tendo chegado a 1081 o número dos mortos nas atividades costeiras, enquanto 457 perderam a vida nos campos da Itália(4).
Hoje o Trem de História inicia uma série de artigos que pretende contar um pouco sobre os leopoldinenses que estiveram nestas missões, como forma de homenageá-los pela passagem do 70º aniversário do fim daquele conflito. Do que conseguimos apurar até o momento, foram eles: 01 – Adilon Machado; 02 – Aloísio Soares Fajardo; 03 – Antonio de Castro Medina; 04 – Antonio Nunes de Morais; 05 – Antônio Vargas Ferreira Filho; 06 – Aristides José da Silva; 07 – Celso Botelho Capdeville; 08 – Derneval Vargas; 09 – Eloi Ferreira da Silva Filho; 10 – Euber Geraldo de Queiroz; 11 – Expedito Ferraz; 12 – Felício Meneghite; 13 – Geraldo Gomes de Araújo Porto; 14 – Geraldo Rodrigues de Oliveira; 15 – Itamar José Tavares; 16 – Jair Vilela Ruback; 17 – João Esteves Furtado; 18 – João Vassali; 19 – João Venâncio Filho; 20 – João Zangirolani; 21 – José Ernesto; 22 – José Luiz Anzolin; 23 – Lair dos Reis Junqueira; 24 – Lourenço Nogueira; 25 – Mário Castório [Castorino] Fontes Britto; 26 – Moacir Jurandir Barbosa Rodrigues; 27 – Nelson Pinto de Almeida; 28 – Orlando Pereira Tavares; 29 – Oscar Nunes Cirino; 30 – Paulo Monteiro de Castro; 31 – Pedro Medeiros; 32 – Pedro Rezende de Andrade; 33 – Pedro Silva Santos; 34 – Wenceslau Werneck.
Hoje, ficamos por aqui. Na próxima edição a história continua.
Notas:
(1) BENTO, Claudio Moreira. A Participação das Forças Armadas e da Marinha Mercante do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1942-1945). Volta Redonda, RJ: Gazetilha, 1995. Disponível em <http://www.ahimtb.org.br/FAMM2GM.htm>. Acesso em 03 fev. 15.
(2) PALHARES, Gentil Palhares. De São João Del Rei ao Vale do Pó. Rio de Janeiro: Bibliex, 1957. p.456.
(3) BELÉM, Euler de França. Livro resgata história de pracinhas goianos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Jornal Opção, Goiânia, GO, ed 1984, 14 jul. 2013. Disponível em <http://www.jornalopcao.com.br/colunas/imprensa/livro-resgata-historia-de-pracinhas-goianos-que-lutaram-na-segunda-guerra-mundial>. Acesso em 31 dez. 14.
(4) BARROS, Aluízio de. Expedicionários Sacrificados na Campanha da Itália. Rio de Janeiro: Bruno Buccini, 1955. p. 403.
Luja Machado – Membro da ALLA
Publicado no jornal Leopoldinense de 16 de maio de 2015